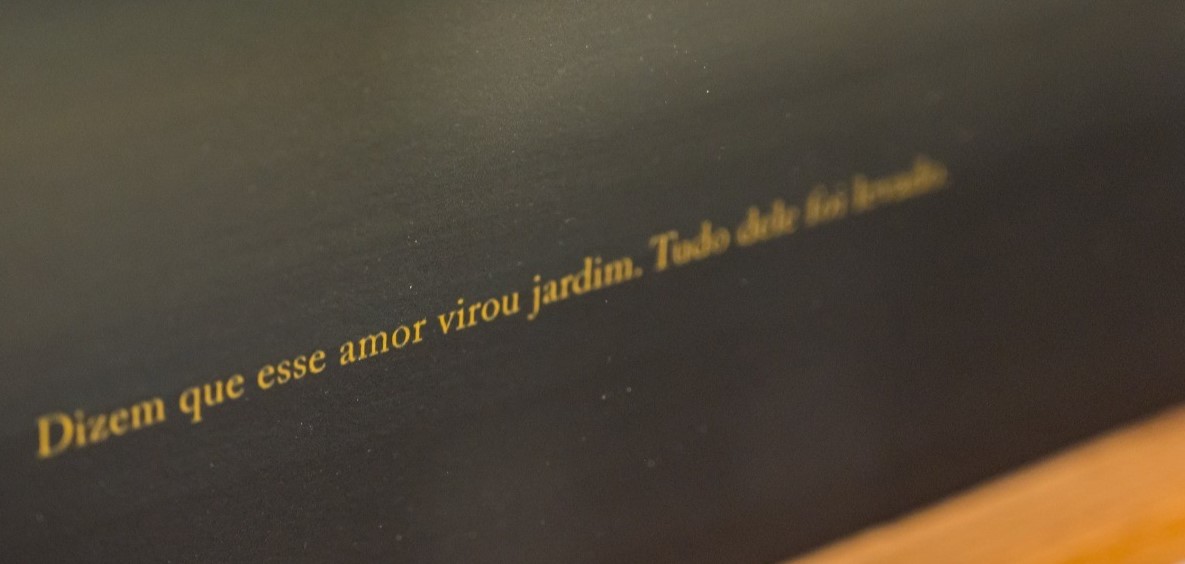Imagine um lugar onde o mar da baía chega. Onde há uma lagoa. Onde há morros com vegetação nativa da Mata Atlântica. Imagine que nesse lugar habitam plantas, animais, e outras tantas formas de vida. Imagine agora que ali bate sol quase o ano todo, e que as abundantes chuvas fazem proliferar seres não tão desejáveis assim. Que a lagoa guarda humores e odores nem tão agradáveis assim. Miasmas. Que a maresia deixa tudo pegajoso, úmido, salgado. E que, afinal, a vegetação é um tanto escura demais, com folhas grandes demais, e guarda bichos perigosos demais. Grandes, como jacarés. Minúsculos, como mosquitos, larvas.
Há muito não entrava no Passeio Público. Como muita gente, passava, desviava, corria por fora, olhava para dentro pelas grades, mas não entrava. A última vez que estive do lado de dentro acho que fazia uns quatro anos, mesmo estando em frente pelo menos três vezes por semana. Houve uma pandemia, é fato. Ainda assim, as idas e vindas ao Centro nunca incluíam o Passeio, e por motivos diversos. Um deles, a percepção de insegurança. Sendo mulher, de classe média, andar sozinha pelo Passeio me parecia desafiador, um lugar que guarda perigos. Sei que essa percepção subjetiva não é só minha. Já ouvi inúmeras vezes relatos semelhantes, especialmente de outras mulheres. Há também a incerteza. Os portões do Passeio não estão todos abertos sempre. Não é fácil identificar, ao acessar um portão, se será possível sair por outro. Desse modo, com apenas um ponto de acesso, adentrar o jardim não se configura como uma possibilidade de travessia de um lugar a outro, mas como uma intenção de permanência, ou de passeio, em seu interior. É curioso que seja assim.
O próprio uso da palavra “passeio” encerra uma charada semântica: o verbo “passear” pressupõe prazer. Ninguém diz que “vai dar um passeio” ou que “vai passear” para ir ao cartório, por exemplo, ou a um funeral. Então esse jardim, construído com a intenção de ser um local de agradáveis caminhadas e piqueniques para a aristocracia carioca do final do século XVIII, parece distante de uma ideia pacificada de “passeio”.
Primeiro jardim urbano do Brasil, o Passeio Público tem uma existência indelevelmente associada à violência. O Centro do Rio, de maneira geral, é todo assim. A cidade se constrói com e a partir de violências. Morros desmontados, lagoas aterradas, mar afastado. Uma constituição geográfica que muda ao longo dos séculos, mudanças que vêm acompanhadas de um desejo de ser outra coisa. Uma cidade, outra cidade, diferente daquilo que é. O Rio se forja então como uma metrópole em constante necessidade de tradução. Entre indígenas, portugues_s e african_s em conflito e amalgamad_s, misturam-se as línguas, as origens, as histórias e esquecimentos de cada povo. O patriarca lusitano conforma a cidade a seu gosto, mas não apaga – não completamente – suas origens, que sempre vêm à tona como a água aterrada. Como uma criança que, com avós indígenas, mãe negra e pai português, o Rio é forçado a evocar cada um de seus pedaços num quebra-cabeça cujas peças foram perdidas. Para lembrar, é preciso antes esquecer.
Performar um outro ser-cidade parecia ser o desejo mais urgente das elites do Rio de Janeiro após a transferência da capital de Salvador, em 1763. Esse desejo se manifestou de diversas maneiras. Na região central, por desmontes e aterros. Apenas nos séculos XVII e XVIII, com a expansão da cidade a partir do Morro do Castelo, cinco lagoas foram aterradas com terra vinda do Morro das Mangueiras, material de pedreiras ou mesmo lixo: Pavuna, Desterro, Santo Antônio, Boqueirão d’Ajuda e Sentinela. Já no século XX, os morros do Senado e do Castelo são também desmontados, e sua terra é usada para aterrar a região portuária e para a criação da Avenida Beira Mar.
O Passeio Público se encontra exatamente onde era a Lagoa do Boqueirão. A terra criada sobre a água não deixa dúvida. A cada grande chuva nos meses mais quentes do ano, a lagoa volta. A Rua do Passeio, submersa em águas marrons e certamente muito mais fétidas do que as que foram aterradas, torna-se rio e transporta fezes, urina, ratos, baratas e outros bichos. Quem ousa (ou precisa) desbravar esse cenário passa com água pela altura dos joelhos, às vezes até mais. Fecha-se a entrada e a saída do metrô. Depois é a limpeza da lama, o desentupimento dos bueiros, a limpeza das portarias, do piso subsolo do metrô, manutenção de escadas rolantes, muita reclamação. Eu observo apenas, um riso no canto da boca. Me atraso para o próximo compromisso. Busco ajustar a agenda. Olá, Boqueirão d’Ajuda. Bem-vinda ao teu lugar de direito!
Outro aguaceiro acontece, esse dentro de meus olhos. Agradeço por ter gravado na minha retina o Boqueirão antes da Lapa, apenas a mata e a água, e também um jacaré. Queria saber, Boqueirão, teu nome tupinambá. Não encontrei nos livros de história. O que sei vem de depois, de um Rio de vice-reis, de pessoas escravizadas e povos dizimados. Um Rio que se queria, vejam só, aristocrata, em pleno clima tropical. Mas como usar tanta roupa, tanto ornamento e garbo, mandando nosso ouro para fora e tentando (com algum sucesso, é verdade) domesticar essa mata?
Para isso, Valentim, o mestre negro treinado em Portugal, veio a serviço do todo-poderoso vice-rei, Luís de Vasconcellos, que queria um jardim francês em pleno Rio de Janeiro. Desçam os morros, acabemos com esse brejo, esse charco imundo que, cheio de miasmas, traz doença e risco à fina flor de nossa aristocracia. Imagine só se é possível andar por tamanha imundície, com o cheiro podre que vem do fundo dessa lama.
Vem o Mestre Valentim, contra toda a corte branca, fazer então seu projeto. Um jardim francês retilíneo, de alamedas bem ordenadas, e bichos que vêm do mangue. Longas pirâmides apontam ao céu dizendo “à saudade do Rio”, “ao amor do público”, o pequeno menino atrás da fonte é “útil inda brincando”. Jacarés, garças, tartarugas, seres longe da nobreza, povoam de bronze a lagoa fantasma que um dia foi sua morada. Restritos à Fonte dos Amores, os jacarés espreitam as garças que, imóveis, alçaram voo. Duas delas hoje estão no Jardim Botânico, na zona sul carioca, numa redoma de vidro e muito bem conservadas. Com os pés acorrentados ao chão, não caem de lado e não voam, mas estão engaioladas para que possamos vê-las.
Nos últimos meses voltei a frequentar o Passeio Público por conta da exposição. O traçado romântico da reforma de Auguste Glaziou, inaugurada em 1862, leva a caminhos sinuosos, não se pode ver o fim. A natureza é imitada em falsos galhos-guarda-corpo de pontes, pedras cuidadosamente construídas e bancos esculpidos como se madeira fossem. Não gosto de usar a palavra “abandonado”, embora seja recorrente, nem pretendo “revitalizar” nada. Sei que aí há vida, e muita.
O Passeio é pouco visto, um lugar bom para segredos, sonecas e sim espreitas. Hoje a Fonte dos Amores de fonte só guarda o nome. Nela não há mais água. Os jacarés seguem em tocaia, banguelas. _s human_s que a frequentam fazem dela banheiro, banco de praça ou motel. Quem sabe os amantes da fonte possam sob um céu de inverno, quando escurece cedo, ver também as estrelas.
Vejo que meu receio de adentrar o jardim era um tanto infundado. Nesse espaço central, e ao mesmo tempo à margem, cada qual cuida de si. A vigilância é constante. Descansam, dormem, conversam. Passeiam até, veja só.
Eu poderia contar essa história, e além dela diversas, mas para isso temos livros e extensa documentação. Quero falar de outra coisa, que é o que move este ensaio.
A exposição Passeio Público é feita apenas de trabalhos inéditos. Do momento em que soubemos que havíamos sido contemplad_s pelo edital da Caixa Cultural até sua inauguração foram dois meses e meio, intervalo em que foram criadas todas as obras da mostra. Dezessete trabalhos, produzidos por dezoito artistas, constituem um novo arquivo de memórias para o Passeio Público. Pensar a partir do Passeio, de suas histórias e estórias, foi o ponto de partida para uma jornada extraordinária. _s artistas convidad_s se lançaram também a voos, buscaram imagens e referências para um Passeio de muitas possibilidades.
Trouxeram as baobás e o tempo, memórias de Madame Satã, espécies vegetais nativas. Miasmas, narrados em livros escritos com o esquecimento e o apagamento de parte de suas palavras. Amores impossíveis, perda de dentes, bichos pouco nobres mas quase sempre em risco, uma liteira em chamas. Paisagem e perigo, brincadeira e morte. Bichos inventados em madeira de poda. Garças remendadas para poderem existir. O sangue, tanto sangue num mundo em guerra. Pavilhões demolidos e disputas narrativas, uma única escultora em um jardim de homens, a orixá das águas salobras das lagoas que levam ao mar, camelôs de aves cintilantes. Os passos de Valentim percorridos numa serpente sinuosa que marca o chão da estéril galeria. A paisagem devolvida, a vingança das marés e das baleias. E o voo. Ah, o voo! Sim, é possível voar, recriar imaginários e trazer novas memórias para um Passeio em disputa.
Novos passados se avizinham, futuros se distanciam. Jacarés enfim devoram a carne, as garças encontram céus estrelados. Sonhando passados e futuros, o presente nos ajuda a mobilizar essas imagens, seja por palavras soltas, frases emolduradas, o vermelho-sangue na boca dos jacarés, pétalas de rosas pelo chão, desaparecimentos e tantas outras imprevisões do caminho.
Em um projeto como esse, que nos desafiou, numa trajetória meteórica, a repensar os caminhos do Passeio Público, é preciso entender o acaso como método. Lembrar o espaço que conversa com a gente, a montagem que nos diz onde cada obra deve ficar, os trabalhos que apontam seus lugares nas paredes e pisos das galerias. No modo de fazer. Tudo isso só existe uma vez. E essa única vez produz novas possibilidades de futuro. Gera modos alternativos e quem sabe contracoloniais de se ver, de se pensar, e de se olhar para o Passeio Público, que nunca mais será o mesmo a partir dos arquivos criados para esta exposição. Reivindicamos novos passados.
Ainda mais água desce, pois vejo que, nesta mostra, driblamos o impossível. Criamos novas visões antigas, enredamos novas imagens, tramamos novas costuras. As obras aqui presentes tratam de inexistências, de desaparecimentos, de apagamentos, e também de existências possíveis, talvez não regenerativas, mas geradoras de novos registros para o Passeio Público. Camadas de memória para se pensar o Passeio no futuro, inscrevendo na história mais um capítulo deste primeiro parque urbano do Brasil.
Esta mostra foi pensada também como uma aproximação. Um convite a percorrer o Passeio, a ler os livros de história, a conhecer tupinambás, vice-reis e Suzanas, a saber de Valentim, da reforma de Glaziou. A transformar o Passeio num verdadeiro passeio. Público, ao público, em público.
***